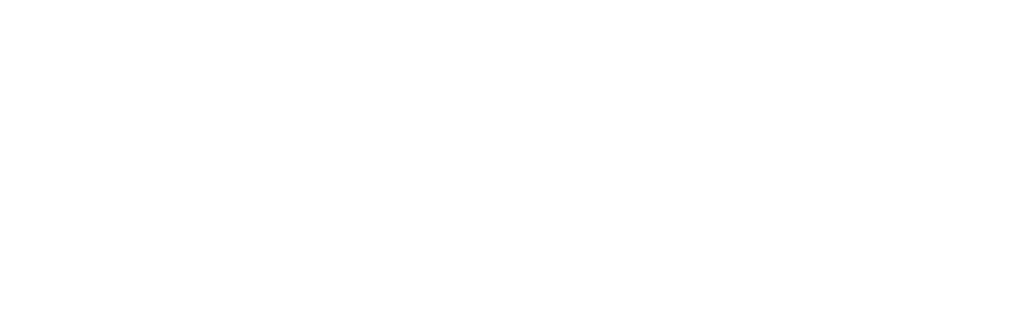O Estado que mata sem vencer: a falência das megaoperações policiais no Rio de Janeiro
Por Arthur Richardisson*
A megaoperação policial no Rio de Janeiro deixou 121 mortos e já é considerada a mais letal da história do estado. Diante desse número, a pergunta que se impõe é crua: o que essa matança toda conquistou contra o crime organizado?
A operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes visava alcançar 180 mandados de busca e apreensão e 100 de prisão, sendo 70 do Rio e 30 do Pará. Dos 100 mandados de prisão que motivaram a operação, apenas 20 foram cumpridos. O restante das detenções ocorreu em flagrante, totalizando 113 presos. Entre eles, 33 vieram de outros estados: Pará, Amazonas, Ceará, Bahia, Pernambuco e Paraíba, revelando a articulação nacional da facção. As forças policiais apreenderam 118 armas de fogo, incluindo 91 fuzis.
Ainda que os números impressionem, a análise jurídica exige cautela, especialmente porque, até o momento, os autos não se tornaram públicos. Trabalha-se, portanto, com fontes jornalísticas e declarações oficiais, o que impõe o dever ético de reconhecer as limitações desta análise. Ainda assim, algumas observações preliminares podem ser feitas à luz do Estado Democrático de Direito.
O Comando Vermelho opera hoje em 25 das 27 unidades federativas. A facção não vive mais apenas do tráfico. Nas comunidades sob sua imposição territorial através da violência, cobra pedágio sobre tudo: transporte alternativo, botijão de gás, sinal de internet, e vende proteção onde o Estado abandonou o monopólio da força. Trata-se de um verdadeiro "Estado paralelo", que impõe sua autoridade onde o poder público se omite ou fracassa.
Segundo levantamento colaborativo do projeto Pega a Visão RJ, conhecido como 'Mapa das Facções', o Comando Vermelho exerce domínio em mais de mil comunidades do Estado do Rio de Janeiro. Essa estimativa informal foi amplamente divulgada pela imprensa, mas sua metodologia, baseada em relatos populares e editada em plataforma digital, ainda carece de validação oficial ou controle público auditável. Os dados apontam que a facção controla cerca de 62,8% das comunidades identificadas como dominadas pelo crime organizado no estado.
A operação causou danos colaterais severos à vida cotidiana das comunidades afetadas. Escolas fecharam as portas, postos de saúde suspenderam atendimentos, o comércio baixou as portas, trabalhadores não conseguiram voltar para casa, avenidas foram paralisadas. Enquanto isso, criminosos sequestraram mais de cinquenta veículos para montar barricadas ou fugir do cerco policial, e moradores viraram prisioneiros dentro das suas próprias casas. Vídeos que circularam nas redes mostram bandidos invadindo residências de família, usando moradores como escudos humanos antes de se renderem.
Esse cenário de guerra urbana, que inclui ataques com drones, fuzis de guerra e granadas, aprofunda a sensação de abandono estatal e agrava o trauma coletivo das populações já historicamente vulnerabilizadas. A cada ação sem planejamento integrado, a cada espetáculo sem efeito estrutural, fortalece-se o ciclo da violência e da descrença institucional.
A operação resultou também na morte de quatro agentes de segurança, entre eles um jovem policial com apenas 40 dias de atuação na corporação. Até sob a ótica mais conservadora, não há como classificar como "bem-sucedida" uma ação que deixa um rastro de corpos, inclusive de seus próprios agentes, sem alcançar seus alvos principais. Policiais que saíram para trabalhar, deixaram suas famílias em função do Estado e da segurança pública, e não retornaram. Honrar essas perdas exige compromisso com ações efetivas, planejadas e coordenadas, que não transformem a morte (de policiais, civis ou criminosos) em espetáculo.
O fato de o principal alvo ter escapado, mesmo diante de tamanho aparato, sugere que a eficácia foi comprometida. Essa constatação, por si só, exige reflexão sobre os critérios de planejamento, inteligência e execução das ações policiais de grande porte.
O número de mortes, isoladamente, não pode ser apresentado como indicador de sucesso, sobretudo quando os objetivos centrais não são alcançados. As ações precisam ser cirúrgicas, não espetáculos destinados a transformar o medo em ativo eleitoral. Até se adotarmos o parâmetro mais conservador e alinhado às forças policiais, uma ofensiva que deixa quatro policiais mortos e dezenas de feridos não pode ser compreendida como bem-sucedida. O governo estadual celebrou a apreensão de quase 100 fuzis, mas é preciso lembrar que, na prisão de Ronnie Lessa, foram apreendidos mais de 100 fuzis sem o disparo de uma arma sequer.
Diversas fontes da própria Polícia Federal manifestaram reservas em relação à ofensiva, indicando que não fazia sentido expor agentes investigativos ao confronto em áreas que sequer constavam no mapeamento das investigações federais. Sem integração plena entre forças federais, estaduais e municipais, dificilmente haverá avanços concretos.
Ainda que não se espere que a polícia entre em territórios dominados por organizações criminosas portando flores, é legítimo exigir que o Estado atue com efetividade, planejamento e dentro dos marcos constitucionais.
As populações das favelas não podem ser permanentemente cooptadas pela "grana da droga, da arma, dos ilegalismos e dos golpes" por ausência de alternativas reais. Precisamos disputar, palma a palma, esses territórios com políticas públicas de verdade. Se não pensarmos nisso, estamos absolutamente comprometidos e condenados a repetir o fracasso.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 635 (ADPF das Favelas), reconheceu o estado crítico da segurança pública fluminense, moldando limites e horizontes não com o objetivo de enfraquecer os órgãos de segurança, mas de assegurar que operem dentro da legalidade democrática. A experiência do Ministério Público estadual revela os efeitos positivos dessa racionalização institucional. Desde 2019, houve aumento no número de intervenções, mas com queda de 52% nas mortes por ação policial e redução expressiva de homicídios dolosos.
Esses dados desconstroem o argumento de que o controle judicial compromete a proteção da sociedade. Ao contrário: demonstram que parâmetros de legalidade e transparência potencializam a eficácia do aparato estatal.
Houve, conforme apurado até o momento, cumprimento parcial das determinações do STF no julgamento da ADPF 635. As câmeras corporais (obrigatórias pela ADPF e recomendadas pela Recomendação nº 1 de 2024, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária) foram utilizadas, mas a duração da bateria, de apenas 12 horas, comprometeu o registro integral da ofensiva, que durou mais de 16 horas. As imagens não estão integralmente disponíveis, e essa lacuna compromete a transparência e a fiscalização institucional. A ausência de comunicação prévia ao Ministério da Justiça também evidencia falhas de articulação federativa.
No plano penal e político-criminal, emerge o uso do termo "narcoterrorismo" por autoridades estatais. A terminologia, que até pouco tempo era evitada, tem sido invocada para descrever o poder bélico das facções, capazes de empregar drones com explosivos, fuzis de guerra e táticas de guerrilha urbana. Essa retórica, no entanto, merece ponderação: a ampliação do léxico penal pode legitimar respostas estatais excepcionais, às vezes incompatíveis com os limites constitucionais.
A repressão ostensiva, sozinha, fracassa porque os criminosos mortos terão sucessores. Se não formos capazes de disputar os territórios social, política e economicamente, seguiremos enxugando gelo. É preciso criar novas formas de interceptar, de seguir o dinheiro, de investigar e de prender com base em inteligência e método. Como lembra Andrea Fantini, professor universitário aposentado da Universidade de Teramo, na Itália, a chave está em seguir o dinheiro (a expressão "follow the money"): rastrear os fluxos financeiros do crime para desmontar suas engrenagens.
O que a ofensiva trouxe de efetivamente novo? Megaoperações policiais, com alto número de mortes, são rotineiras há décadas no Rio de Janeiro e historicamente falharam em restabelecer a autoridade do Estado sobre os territórios dominados por facções. O problema não é de ausência de força, mas de ausência de inteligência, integração e projeto.
É preciso reconhecer que a fragmentação institucional, agravada pela dissolução da Secretaria de Segurança Pública no governo Witzel, compromete seriamente a governança das políticas públicas de segurança. A recente recriação da pasta, embora necessária, ainda não foi suficiente para restabelecer a coordenação perdida.
A crise da segurança pública no Brasil, e no Rio de Janeiro em particular, é estrutural. O crime organizado funciona como sistema, com poder militar, econômico e territorial. Não se pode combatê-lo com ações isoladas, fragmentadas e espetaculares. A megaoperação em questão contou apenas com a participação das polícias estaduais, sem articulação efetiva com a União.
O Brasil precisa de um novo paradigma para enfrentar a crise da segurança pública. O desenho constitucional de 1988 já não dá conta da complexidade do tema no país. A PEC da Segurança Pública, defendida como prioridade pelo Ministério da Justiça e em debate no Congresso Nacional, propõe uma reorganização sistêmica que articule União, estados e municípios. Representa uma janela de oportunidade para redefinir as bases institucionais da cooperação entre os entes federativos e reequilibrar competências no combate ao crime organizado. É um passo essencial para que o país supere o modelo de guerra e construa uma política pública que combine eficiência, prevenção e respeito aos direitos fundamentais.
O modelo de segurança pública fundado em ações midiáticas fracassou. Não avançou sobre os territórios dominados por facções. Não rompeu com as redes de financiamento. Não resgatou o protagonismo do Estado nas periferias. As perguntas que não calam são: o que foi de fato desarticulado?
Quantos dos mortos integravam a cúpula da organização criminosa? Quantos dos mandados foram efetivamente cumpridos? Que efeito estruturante essa ofensiva terá sobre o narcotráfico, ou será apenas mais um ciclo de violência sem consequência duradoura?
O futuro da segurança pública no Brasil dependerá da capacidade de construir soluções integradas entre as esferas federal, estadual e municipal. A repressão isolada não desmonta o poder financeiro e logístico do crime. É preciso "seguir o dinheiro", mapear redes ilícitas, interceptar o fluxo de capital, prender lideranças e oferecer alternativas reais à população. A disputa por esses territórios deve ser feita com educação, saúde, trabalho e dignidade. Se não pensarmos nisso, estaremos fadados a repetir, indefinidamente, os mesmos erros.
A verdadeira ordem pública não é a do "bandido morto" nem a da vingança institucionalizada. É a do Estado presente, das polícias bem treinadas, da justiça célere e das políticas sociais consistentes. Uma ofensiva que transforma o medo em espetáculo e soma centenas de mortos, sem resultados estratégicos duradouros, não é solução. É sintoma.
*Arthur Richardisson é advogado criminalista e vice-presidente do Observatório Nacional da ABRACRIM
Comentários
Compartilhe esta notícia
Faça login para participar dos comentários
Fazer Login